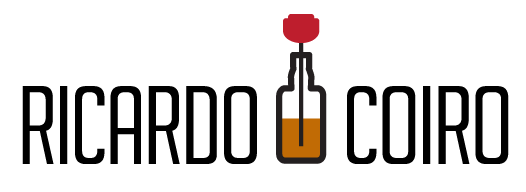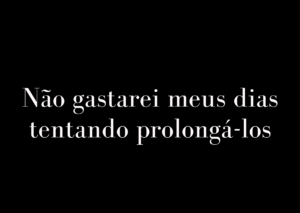“O tempo sempre dá um jeitinho de reequilibrar as coisas”, meu avô havia me dito diversas vezes. E, para o meu desespero, era exatamente isso que estava acontecendo; a desordem que me possuiu quando peguei a Marília trepando com outro, e que por um longo período me ajudou a parir textos capazes de salvar pessoas da atrofiadora inércia, estava me deixando aos poucos, sendo substituída por uma inocuidade horrível, especialmente à fertilidade.
Meus textos estavam saindo cada vez mais adocicados e incapazes de refletir a aspereza da realidade. Não tinham pele. Havia neles um quê de cinema americano: quilos de maquiagem e somente catástrofes calculadas, inseridas com um único objetivo: dar mais potência a happy endings. Sobre as quinas cortantes sempre características em minha escrita, eu passei a instalar protetores emborrachados sem sequer perceber; comecei a arredondar tudo com frases motivacionais, disfarçar o azedume inerente à existência com temperinhos artificiais aos quais nunca havia recorrido, aplicar morfina nos escritos de um jeito que me deixava com asco da minha própria falta de ofensividade.
Eu sabia que precisava reabrir o corte antes que estivesse totalmente cicatrizado, antes de virar mais um dos muitos escritores-Lexotan que vendem porque publicam apenas o que os covardes precisam ler para acharem a vida ao menos suportável. Mas como? A dor da traição descoberta já havia se tornado piada de bar e todo o meu resto caminhava em paz. Eu voava em velocidade de cruzeiro e precisava, urgentemente, de turbulências com potencial para me devolver o poder de chacoalhar as pessoas. Até mesmo a minha situação financeira, que sempre esteve à beira de uma hecatombe, andava sob controle devido a um conto meu que um estúdio gringo resolveu filmar, pagando-me bem e adiantado.
Meus aporrinhamentos, todos eles, tornaram-se tão banais que não me instigavam a liberar enxames de palavras capazes de ferroar. O excesso de agrotóxico nos tomates, a pontada do lado direito do abdômen e a resistência do chuveiro que não parava de cair não preocupavam a ponto de me instigarem a escrever poemas-desfibriladores. Faltava-me o incômodo que eu só sei amansar vomitando tudo sobre o papel, doa a quem doer. Então, em vez de continuar dentro de casa produzindo textos que nem relia para não me sentir ainda mais diminuto, eu resolvi sair por aí de peito aberto a todo tipo de coisa cáustica. Passei dias sem nada produzir, entregue à boemia, somente à procura de aguilhões e tormentos, adubo real.
Até que, numa conveniência de posto de gasolina, conheci a Priscila. E, antes mesmo de qualquer tipo de interação, enquanto a observava rasgando um sachê de maionese com os dentes como se fosse um coiote separando a carne do osso, eu já sabia que tinha encontrado algo realmente capaz de me ferrar de jeito. Não me pergunte como, mas eu sabia. E, justamente por isso, aproximei-me e perguntei se podia me juntar a ela.
Com voz de cachaceira e boca cheia ela me respondeu: “Agora não. Se quiser, vai ter que me esperar acabar de comer”. Eu aceitei. Fiquei plantado do lado de fora a esperando sair. E a maldita, após devorar um lanche e uma coxinha, ainda ficou fuçando no celular e gargalhando de um jeito escandaloso que fazia com que os funcionários da loja trocassem olhares; e assim permaneceu por mais de uma hora, como se tudo fosse mais interessante do que eu. Ela sabia que eu a observava, no entanto, em momento algum demonstrou. Doze cigarros e algumas unhas a menos depois, então, empurrou a porta de saída e me ignorando seguiu em direção à calçada. Pedi o telefone dela. “Se quiser, você me dá o seu. E, quando estiver a fim, se um dia ficar, eu ligo.” Pedi papel e caneta ao frentista e escrevi os números mais legíveis que consegui, duas passadas de tinta sobre cada um. Ela enfiou meu contato na bolsa e deixou o posto a pé, como se na noite paulistana não existissem estupradores e outras ameaças. Como se soubesse machucar também.
Passei a conferir o telefone diversas vezes ao dia, compulsivamente. “Será que ainda estou na bolsa dela? Ou será que já estou amassado em algum lixo?”, perguntava-me depois de notar que meu celular só apitava por causa de e-mails da editora e mensagens de alcoólatras funcionais querendo companhia para se sentirem menos culpados. E isso já bastou para me gerar inquietude e, consequentemente, reaproximar-me da escrita mais carnal e menos plástica. Não foram os textos mais geniais, admito. Mas neles já havia alguns sinais de que minha impotência estava findando. Ainda não tinham a força que eu ansiava, porém, já se mostravam mais impactantes do que tudo o que havia produzido depois que minha vida entrou nos eixos.
Então recebi a visita de uma velha conhecida: a insônia; e, numa das madrugadas em que acordei para me entupir de Bis e nicotina, a primeira mensagem da Priscila chegou: “O que acha de sermos sinceros desde o início?”. “Por que não?”, respondi. “Se quiser só diversão, tudo bem. Se quiser algo mais, pode me apagar”, ela completou. Concordei e combinamos de nos encontrar no dia seguinte, às oito horas em casa.
Às nove e dez ela me mandou uma mensagem sucinta informando que tinha se enrolado e que não conseguiria mais ir. Não me pediu desculpas nem sugeriu que remarcássemos. Não disse o porquê nem nada. Eu estava dentro da camisa jeans na qual me sinto mais confiante e não conseguia acreditar no que estava lendo. “Como assim não vem mais? E só me avisa agora?” Já havia escolhido a trilha sonora, comprado vinho, trocado a roupa de cama e colocado um sabonete novo no lavabo. Fui tomado por um surto de raiva e, ao mesmo tempo, por motivação do tipo que há tempos não encontrava, como se aquela falta fosse a convocação para um grandioso desafio, o primeiro movimento do peão sobre o tabuleiro; e tomado por esse sentimento conflitante, num só tiro, escrevi:
Por todos os cigarros que me fez desperdiçar enquanto me dava as costas ou perambulava por sei lá onde, eu já a odeio. Mais do que temo descobrir um tumor num ultrassom de rotina. Tanto que, sinceramente, acho melhor nem vir mais. Pois, apenas para puni-la, encontrarei um jeito de transformar minha presença em algo que incomodará mais do que suas ausências calculadas – ou covardes? E acho que sei como: vou fazer com que queira ficar, que se apegue e, assim, contrarie-se, revelando a menina insegura que esconde sob esse monte de “se quiser” que vive cuspindo, como se possuísse o controle de tudo; e depois, quando achar algum conforto em mim, chamarei um táxi só de volta.
Escrevi direto no celular e apertei “enviar”, nem reli. Ela viu no mesmo segundo, mas não respondeu nada. Em seguida mamei as duas garrafas de Periquita que havia comprado e rolei nos lençóis recém-trocados até a cama ficar insuportavelmente quente. Revirei-me sobre exagero que estava renascendo, no “eu” sempre à beira de um apocalipse que eu voltei a descobrir como alimentar. Masturbei-me imaginando a Priscila me pedindo tapas na cara cada vez mais fortes e, depois de cada bofetão, provocando-me: “Só isso?”. Esporrei rápido, quase por obrigação, porque no meio da punheta me deu vontade de escrever, de tirar de mim mais do que esperma. Pari mais de dez mil palavras pontiagudas sem muito esforço. Por fim, antes de apagar, ainda arrumei forças para uma última mensagem: “Por que não vem aqui amanhã? Se quiser beber, traga vinho. Se quiser só trepar, tudo bem”. Ela viu e não respondeu. Apaguei.
No dia seguinte já acordei inquieto, palpitando à espera de qualquer sinal dela. Sabia que algo estava acontecendo, que as coisas finalmente se movimentavam para alguma direção. Era dia de fazer as compras da semana no supermercado, a geladeira estava quase vazia. Contudo, não saí de casa nem do pijama. Não comi as bananas que já começavam a apodrecer na fruteira. Reguei o estômago maltratado pela noite anterior com café forte e retomei o que tinha começado a produzir. Martelei freneticamente o teclado até as seis e pouco da tarde, fumando sem parar e ali mesmo, na sala. “Este sim sou eu!”, pensei alto depois de notar que havia colocado mais dez mil palavras cortantes no papel. “Não aquele que comia banana com aveia todo dia e só fumava no terraço. Não aquele cujos textos começaram a agradar as amigas da mãe e que tinha cortado os carboidratos depois das dezoito.”
Reli tudo, orgulhei-me de mim, pedi um yakisoba e, após vencer meu orgulho e perder para a ansiedade, enviei uma nova mensagem à moça do posto: “Tenho uma proposta: trepamos hoje e nos deletamos depois”. Achei poético, talvez um bom título para a narrativa da mulher perigosa e controladora que estava escrevendo. “Dez horas na sua casa?”, ela me respondeu de imediato, para a minha surpresa. Concordei e fui tomar banho.
Ela chegou cinco minutos antes do combinado. Vestia jeans, camiseta e sapatilhas vermelhas. Diferente de quando a conheci, estava de cara quase limpa: só batom e um tiquinho de lápis. Parecia mais ansiosa, verdadeira e vulnerável. Cheguei até a pensar que não era a mesma.
“Não tem vinho nem amendoim”, declarei assim que ela se sentou dura no sofá, incapaz de dissimular o desconforto.
“Não tem problema”, ela me respondeu. “E cerveja, tem?”
“Também não…”
Fomos ao supermercado no meu carro. Estávamos tímidos, não conseguíamos sustentar os personagens que havíamos criado para atender nossas necessidades. Falei um pouco de mim, das viagens que queria fazer e a respeito da vontade que tenho de me mudar do Brasil. Ela me falou do trabalho que realizava numa academia, da fobia de gafanhotos e sobre ser filha única. “Eu nunca fiz isso”, ela também soltou, emendando as palavras, acelerada, após eu ter declarado o meu amor por bordas recheadas.
“Isso o quê? Comer bordas recheadas?”, perguntei, achando-a uma alienígena por nunca ter comido bordas recheadas.
“Sair com um quase desconhecido para… Ah, você sabe…”
“Fala!”, insisti. Afirmações nada pudicas me dão tesão.
“Você sabe!”
“Fala!”, cutuquei de novo. E dela não saiu nada. Não parecia a devoradora de fast-food da conveniência nem a personagem corajosa das minhas últimas páginas.
Compramos a cerveja – “Prefiro Stella. Heineken tem gosto de grama!”, ela disse –, voltamos para casa e começamos a nos despir; expusemos tudo, das tatuagens que queríamos fazer passamos às cicatrizes que não sabíamos mais como esconder: lá pelas três da madrugada contei da minha ex-namorada e de como tudo terminou de repente, numa terça que eu “não deveria” estar em São Paulo. Então, depois de um gole mais longo seguido de um suspiro, ela me falou do que tinha acontecido uma semana antes de me conhecer: “Já estávamos de casamento marcado quando ele me pediu um tempo por mensagem. Por mensagem! Você acredita? Eu já tinha até reservado o bufê e experimentado o vestido. Você acredita?”.
Saímos de novo para comprar cerveja. Porém, diferente da primeira vez, não levamos as máscaras. “Já ouviu esse som?”, perguntei depois de colocar To fall in love with you, do Bob Dylan. Ela aumentou o volume sem me pedir, como se já fôssemos velhos conhecidos. Amigos, talvez. Ouvimos em silêncio enquanto cruzávamos uma cidade vazia e cheia de muros machucados como nós. “Posso ouvir de novo?” E de repente não estávamos mais em busca de um lugar aberto para comprar cerveja: queríamos nos perder, descobrir se a ventania que entrava pelas janelas abertas tinha o poder de soprar a realidade para longe de nós. “Vamos ouvir de novo?”, antes mesmo de o Dylan terminar. Paramos num posto, o mesmo em que nos conhecemos, e lá ficamos fumando e bebendo como dois desgraçados. “Sabe…” ela começou e logo desistiu. Então, subitamente, como uma tempestade de verão que vem do nada, desabou. De soluçar. Pensei que fosse morrer sem ar em meus braços.
“Eu não tô legal, cara”, confessou. “Desculpa.”
“Que é isso, tá tudo bem…”
“Não, não está. E eu não devia ter vindo.”
Aquela sim ela era, finalmente ela. E nudez era pouco: estava do avesso, arregaçada. E vê-la naquele estado, imediatamente, reabriu uma boceta em meu coração.
“Você pode me levar para casa? Eu vim de táxi.”
“Claro”, respondi. E fomos em silêncio, como se seguíssemos para o velório de um recém-nascido. Rumamos sem deixar a música do Dylan acabar. Nenhuma palavra me parecia suficiente para confortá-la. Aquilo sim era desconforto, uma impotência pior do que a do pau. “Aqui tá bom”, ela me disse antes de descer envergonhada pelas tripas recém-mostradas. E, quando estava abrindo o portão do prédio, com a voz totalmente enrolada e frágil, gritou: “Ligo se um dia eu cicatrizar”.
Voltei para casa, joguei vinte mil palavras na lixeira e, em menos de um mês, escrevi meu primeiro romance. Chamei-o de Se um dia ela cicatrizar. “À moça que ainda sangra” na primeira página; no final da última, reticências – a única forma que encontrei para materializar a inquietante esperança que o tempo, um dia, vai transformar numa insuportável serenidade.